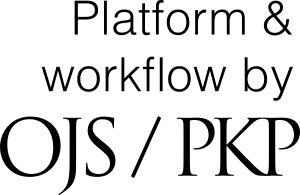PANDEMIA E DESGLOBALIZAÇÃO
Por Marcelo Coutinho - Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
A pandemia da Sars-Cov-2 destruiu a economia mundial como nenhuma outra depressão no passado foi capaz de fazer. Dessa vez, não foi uma crise financeira ou uma grande guerra que produziu uma queda vertiginosa do PIB em todos os continentes. Foi um vírus. E o tombo provocado pelo colapso sanitário de 2020 equivale aos choques de 1929 e 2008 somados. É como se um pedaço do meteoro tivesse atingido o planeta em cheio, não em um tipo de apocalipse exatamente, mas em profundas transformações, que não extinguem a humanidade, e sim, um estilo de vida global que vinha crescendo e se consolidando há décadas. Neste artigo, busco analisar as mudanças na sociedade global já possíveis de serem vistas. Argumento que o novo coronavírus não só trará o advento final da China hegemônica ao lado dos EUA, como afirmei em artigo anterior (Coutinho, 2020), como também representa o eclipse da própria globalização como nos acostumamos a vê-la. Procurarei mostrar como essas duas coisas se relacionam, além de discutir que tipo de modernidade emergirá nas sociedades contemporâneas a partir de agora. Já posso adiantar que a cena que vislumbro está bem distante da visão romanceada de que teremos uma sociedade mais humana e solidária.
A primeira onda de desglobalização que o mundo enfrentou foi na chamada “nova guerra dos trinta anos”, entre 1914 e 1945, período marcado por duas grandes guerras e uma grande depressão econômica. Aqueles anos mataram a globalização nascente no século 19 porque prevaleceu a lógica política dos impérios de fragmentação sobre a lógica econômica do capital de convergência. O padrão monetário internacional, a integração comercial e financeira, bem como os processos de democratização sofreram forte revés a partir de acontecimentos históricos muito duros que fecharam um mundo novo que começava então a se abrir. O resultado foram economias “protegidas” da concorrência internacional, o retrocesso dos costumes sociais abertos na chamada “belle époque”, e o surgimento de frentes totalitárias, à esquerda com o comunismo e, sobretudo, à direita com o fascismo, ambos intitulados socialistas àquela época e que pressupunha a dissolução coletiva do indivíduo.
A globalização só pôde realmente voltar à tona a partir de 1971, com o fim de Bretoon Woods, isto é, com o início do padrão dólar como meda internacional, e logo em seguida com as economias cada vez mais abertas à entrada e saída do capital financeiro, além de uma explosão no comércio mundial que acelerou ainda mais os avanços já observados pelo acordo geral sobre tarifas e comércio (GATT). Tudo isso na esteira de transformações tecnológicas e energéticas fundamentais, em particular o computador, e o início efetivo da era do petróleo (Coutinho 2012). A nova globalização adquiriu a cara dos chips eletrônicos e dos poços de óleo, com os quais diferentes gerações se acostumaram a viver. Um mundo de economias integradas no final do século 20 avançou muito mais do que sua versão de um século atrás, e também trouxe consigo um tipo de nova belle époque, com muitas pessoas acreditando numa era de prosperidade democrática e, até mesmo, no fim da história, após o colapso da União Soviética e o desfecho da Guerra Fria amplamente favorável aos EUA (Frieden, 2006).
Nos últimos anos, numa corrente em contrário, observamos os sinais de uma segunda onda de desglobalização, inicialmente sentida a partir de eventos locais como a volta do nacional-isolacionismo norte-americano, a fragmentação da União Europeia, os retrocessos autoritários em países como a Turquia e a Venezuela, o enfraquecimento dos organismos multilaterais e o neoprotecionismo da guerra comercial entre EUA e China. Tudo isso logo em seguida à crise econômica de 2008, que hoje pode ser vista como uma espécie de antessala para as transformações desencadeadas pela pandemia ou prenúncios de um “Armagedom” global. Esses eventos isoladamente pouco teriam condições de reverter o processo de globalização, que se trata de um movimento histórico amplo e profundo demais para que fatores locais pudessem freá-lo. Na verdade, tais inclinações anti-globalização não passariam, na verdade, de pontos fora da curva, isto é, exceções à regra e a tendência geral, ou mesmo parte dos efeitos colaterais de resistência a um mecanismo irresistível de atração global.
No entanto, quando inserimos nesse contexto a pandemia da Sars-Cov-2, tudo muda de figura. O novo coronavírus mata percentualmente pouco, mas numericamente muito, o suficiente para amedrontar todo o planeja e fazê-lo parar como nunca antes na história. Não seria forçoso dizer que, de uma hora para outra, o chão simplesmente desapareceu. Não foram as quarentenas que fizeram isso, mas a forma como a doença foi desencadeada na China para o resto do mundo, agravada pela sua falta de transparência, bem como a demora das autoridades mundiais em reconhecer essa ameaça. Seja como for, a hecatombe na economia provocou fenômenos extraordinários como, por exemplo, o estoque mundial de petróleo a níveis muito altos, que fez com que o preço do barril chegasse a patamares pertos de zero. Esse ponto merece destaque porque abalou um dos principais alicerces da globalização contemporânea. O petróleo nunca teve tão pouco valor como agora. Não foram só as indústrias que desaceleraram brutalmente. Navios, carros e caminhões pararam de circular. Os costumes mudaram e a dependência do petróleo se tornou mais relativa. As empresas petrolíferas se encontraram nunca situação muito difícil, podendo algumas delas inclusive não sobreviver sem se livrar de boa parte dos seus ativos. Mesmo com a recuperação da economia em algum momento, a demanda por essa fonte de energia não será mais a mesma, concorrendo com fontes renováveis, a exemplo do que acontece na indústria automobilística de carros elétricos. Assim como os poluentes V8 marcaram os anos 1970, da Ford a Woskwagen, agora é a vez dos carros da Tesla fazerem sucesso crescente, abastecidos na tomada.
Alguém poderia argumentar que a queda no preço da gasolina faria crescer a procura pelos carros de motorização convencional, realimentando, assim, a indústria do setor e, consequentemente, a importância do petróleo logo em seguida. Isso seria verdade para qualquer outra época anterior. Mas não agora. Por três motivos principais. O primeiro é que o mundo já vinha, pouco a pouco, substituindo sua matriz energética. O preço do barril do Petróleo nunca mais se recuperou de maneira mais sustentável desde a crise de 2008, e isso não foi à toa. O mundo voltou a crescer, mas dessa vez inclinado para as novas formas de energia, seja por causa da concorrência, seja por causa das necessidades ambientais pressionadas pelas mudanças climáticas. Em segundo lugar, as novas descobertas de grandes reservas de hidrocarbonetos aumentaram muito a oferta do produto e diminuíram sua rentabilidade em poços de todo o mundo. Um bom exemplo disso é o Pré-Sal no Brasil. Certa vez calculado pela Petrobrás para ser explorado com o barril acima de 100 dólares, patamar do qual só viu se distanciar desde então, agora se encontra na dramática circunstância de um barril entre 30 a 20 dólares. Antes da pandemia estava em 40 ou 50 dólares, e já era considerado uma positiva valorização. Isso sem falar do enorme endividamento da empresa. O mercado do petróleo é controlado por um grupo de países exportadores, a OPEP. Por isso, é bem possível que ainda vejamos oscilações positivas no preço do barril de petróleo por um tempo razoável, que daria a entender que nada mudou. No entanto, essas valorizações periódicas se devem à redução na oferta do produto, e não mais ao aumento do consumo. A demanda pelo petróleo colapsou com a pandemia, antecipando mudanças que já estavam em andamento muito além da conjuntura. E não será porque alguns países sairão da quarentena que esse quadro mudará no longo prazo.
Finalmente, o terceiro ponto é que depois da pandemia o mundo não voltará a ser o mesmo. Sobre essa mudança de padrões falarei mais a frente. Por enquanto, vale dizer apenas que o petróleo se baseou num modelo de mobilidade e transporte que envelheceu. Continuará existindo, mas não como antes. As pessoas estarão mais em casa, inclusive as que ainda trabalharem, pois o desemprego passará a ser estrutural e não só um problema do momento. A necessidade de grandes locomoções vai diminuir muito. E a queda no deslocamento continuará abatendo a demanda sobre combustíveis. Com menos dinheiro e menos trabalho fora de casa, vai haver menos carros particulares, e o transporte público também se atualizará. Além disso, há também uma grande chance de cair o transporte marítimo e os voos mesmo depois da retomada das economias. A quantidade de voos caiu mais de 95% nos últimos dois meses, e muito provavelmente teremos empresas aéreas bem menores do que até hoje tivemos. Por sua vez, a minoria que conseguir um emprego, trabalhará em casa ou perto de casa, num mercado abastecido por fonte locais ou mais próximas, exceto talvez para algumas áreas como a de grãos. De acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA), o auge do petróleo seria em 2025. Mas a pandemia certamente mudou esse quadro, precipitando uma queda da demanda progressiva em razão do maior uso de fontes de energia alternativas. Na verdade, agora tudo indica que o auge do Petróleo já ficou no passado. A tendência é que o chamado “ouro negro” seja cada vez menos procurado.
O segundo pilar do Big Bang global foi a mudança do padrão tecnológico. Os microchips se converteram em computadores e celulares, e estes se transformaram na principal forma das pessoas se comunicarem e negociarem. A era digital globalizou o mundo de uma maneira que dispensava papel moeda ou plástico para fazermos trocas econômicas, dispensava até mesmo a presença física de vendedores e compradores no ato da transação. Eles sequer necessitavam se conhecer ou estar perto para fazer negócio, e as cifras não tinham mais limite de natureza nacional. O mundo ficou pequeno, as fronteiras desapareceram virtualmente. O que ocorria numa ponta do planeta logo era de conhecimento do outro extremo. E o capital circulava dia e noite instantaneamente, numa velocidade que também encurtou o tempo de praticamente todas as atividades econômicas e sociais. Foi possível uma conexão ampla e numerosa de relações entre pessoas comuns, líderes políticos e empresários. O capitalismo se acelerou na mesma medida que a tecnologia da informação, integrando economias e indivíduos numa rede global capaz de oferecer alguma homogeneidade bastante prática e influente em meio à diversidade cultural do planeta, frequentemente explosiva. Um mundo diverso virou uma unidade digital, com todos de frente a pequenos visores eletrônicos.
Com a pandemia, essas novas redes sociais encontram seu apogeu. As pessoas em casa durante longas quarentenas se comunicam umas com as outras praticamente apenas por meio do celular e seus aplicativos. O comércio de rua perdeu definitivamente espaço para o comércio eletrônico. Os relacionamentos de afeto que já vinham acontecendo nessas redes também se tornaram o único tipo possível em tempos de isolamento. Ficamos distantes em termos físicos, mas íntimos em termos digitais, cada um na sua respectiva casa. Mesmo que depois das quarentenas queiramos mais do que nunca nos encontrarmos presencialmente e nos tocarmos, matando a vontade de compartilhar espaços, um tempo longo de isolamento deixará marcas duradouras. Continuaremos sendo seres sociais, porém, cada vez mais pela Internet. A natureza do que é social já está mudando. Social vai deixando de ser compartilhar uma mesa de bar ou participar de uma festa, falando com todas as pessoas, para virar outra coisa. O que é social passou a ser sinônimo de redes eletrônicas. Em vez de dizer o matinal “bom dia” para as pessoas que encontramos nas ruas, simplesmente curtimos com “likes” suas últimas publicações no Instagram e Facebook, e esperamos que façam o mesmo com os nossos “posts” nessa nova etiqueta social. Em vez de nos aproximarmos de alguém com uma cerveja na mão e iniciar uma conversa que pode durar a noite toda, deslizamos o dedo infinitas vezes sobre perfis de inúmeras pessoas no Tinder e em outros sites de relacionamento, como se todos fosse produtos numa prateleira de afeto. Coisas assim vieram para ficar e tendem agora a ser o novo normal. Não que velhas práticas desapareçam completamente, mas elas não irão mais caracterizar a nova era agora precipitada pela pandemia. Os espaços de convivência não serão mais os mesmos nas escolas, universidades, academias, supermercados, shows. O fenômeno das “lives” são talvez a maior prova disso. Multidões se reúnem sem se encostar pelo you tube. As relações serão agora mais à distância por comodidade e segurança, mas também porque incorporamos novos hábitos sociais.
A tecnologia foi uma peça chave na globalização. Graças a ela, nos isolamos nas nossas “cavernas” sem perder o contato com o mundo. Mas a tecnologia agora avançou para uma fase diferente, com aspectos que podem trazer mais autoritarismo e desglobalização do que democracia e integração internacional como se imaginava alguns anos atrás. Sendo bastante direto, a pandemia acelerou a revolução da inteligência artificial. O que levaria ainda duas décadas para se consolidar como novo padrão tecnológico irreversível, agora levará poucos anos, em alguns setores, meses. Em resumo, as pessoas ficarão mais em casa, enquanto os robôs estarão nas fábricas, campos e até hospitais. Os empregos destruídos pela Covid-19 não irão se recuperar. Foram também sepultados como os milhares de mortos. As pessoas desocupadas precisarão viver de rendas mínimas permanentes. Os preços vão cair bastante porque as máquinas são mais baratas que a mão de obra convencional e mais eficientes, e exigirão menos espaços físicos para “trabalharem” pelos humanos, o que levará inclusive a uma desvalorização também estrutural dos imóveis. Para que serve uma sala de escritório, por exemplo, se alguém pode ter um home office. Em termos técnicos, a pandemia foi um “turn point”, que gera retornos crescentes para novas formas de produção e serviços, dificultando progressivamente voltarmos para a tecnologia anterior. Isso é o que chamamos de “path dependence”. Depois da pandemia, será mais custoso voltarmos para o mundo que era antes, por mais transtornos e efeitos colaterais que isso possa acarretar. Além de uma nova distribuição da matriz energética, conviveremos intensamente com os robôs, de uma forma que vai mudar o mundo, desde como varremos a sujeira do chão da casa até o comércio internacional e a geopolítica.
Existem pelos menos duas possibilidades de analisar os efeitos da pandemia sobre a economia global. O primeiro é que ela abate a todos de maneira indiscriminada, mas sobretudo o Ocidente, não só em termos de mortes, mas também de recessão econômica. Os países asiáticos como a China e a Índia continuam crescendo, ainda que em patamares muito abaixo do que vinham se expandindo nos últimos anos. Os EUA reverteram completamente sua tendência econômica anterior à Covid-19 de crescimento e pleno emprego para uma profunda queda no PIB e disparada do desemprego. Ou seja, a grande potência dá sinais inequívocos de que, além da Europa, sentiu muito os feitos negativos da pandemia. Seu eventual declínio e o mundo pós-americano, portanto, não teria nada a ver com variáveis endógenas do capitalismo ou fraquezas inerentes da política e da sociedade norte-americana, como pressupõem várias teorias, desde autores marxistas como Chomsky (2012) ou Arrighi (2004), até liberais como Zakaria (2008). Mas, sim, o declínio ou abalo decisivo na hegemonia se daria por causa de um fator interveniente inesperado, que nada tem a ver com uma lógica própria da economia ou da política que se repetiu outras vezes. Vale notar que, tampouco, foi algum mecanismo internacional como, por exemplo, o equilíbrio de poder, que teria desencadeado uma nova situação na correlação de forças, como pressupõem abordagens realistas de Morgenthau 2006 a Mearsheime (2001). Tudo aconteceu por causa de uma doença que se originou na China e que se espalhou para o resto do planeta, derrubando todas as economias, mas que foi impiedosa com o Ocidente. O resultado disso seria, assim, a ascensão definitiva da potência asiática como candidata, se não a substituir os EUA na condição de hegemonia imediatamente, ao menos a se igualar em termos de poder a quem por décadas dominou o mundo. Tudo isso em um cenário de queda do comércio global, em que os países se voltam para suas próprias economias.
A segunda forma de analisar esse quadro seria introduzir nessa discussão as mudanças estruturais que a inteligência artificial (IA) traz à economia e ao poder internacional. A combinação de IA e pandemia recria movimentos nacionais de reindustrialização, que somado ao protecionismo comercial, representa um duro golpe na globalização. O dólar alto é um fator que desestimula, por si só, a importação de componentes para a fabricação ou montagem doméstica dos produtos finais, o que leva a incentivos para produzir tudo localmente. Porém, mesmo que o dólar baixe, as cadeias globais de produção perdem grande parte do sentido com a IA porque essa nova tecnologia elimina os custos com a mão de obra e os ganhos de escala que justificariam vantagens comparativas e a divisão internacional do trabalho. Sendo bem claro, a IA não precisa da globalização para tornar os mercados mais competitivos. O mundo compra produtos da China porque a mão de obra desregulamentada de centenas de milhões de chineses torna tudo mais barato de ser feito. Mas se os robôs fizerem esse trabalho com mais eficiência e ainda menores custos, por que o mundo continuaria comprando os produtos chineses em vez de produzi-los localmente? A IA perverte as lógicas tradicionais do mercado. E a pandemia cria estímulos políticos. Um bom exemplo disso é a produção do álcool gel. O Brasil é um grande produtor de álcool, mas importa o espessante que o torna útil no combate à Covid-19. Assim como máscaras e respiradores, o mundo tem agora motivos para desconfiar da China, que concentra este e tanto outros setores. Se, por um lado, então, a pandemia derruba a economia norte-americano, por outro lado, gera novos incentivos para uma desconcentração das linhas globais de produção da China. A pandemia e a IA juntas são um coquetel de disrupção explosivo em todo o mundo. Enquanto as empresas conectadas às antigas cadeias globais sofrem um declínio aparentemente irremediável, as empresas de tecnologia consolidam mercados e se expandem.
Setes gigantes se destacam na era digital: Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Baibu, Alibaba e Tencent (Lee, 2019 e Harari, 2018). Sediadas nos EUA e na China, essas empresas são cada vez mais bilionárias e poderosas. São monopolistas e o exato oposto das cadeias globais de produção e serviços. Vendem para o mundo todo desde suas pequenas localidades provinciais. Compram possíveis concorrentes em outros países, atraem cérebros e, assim, controlam o mercado que não é significativamente atingido pela pandemia, pelo contrário. Com as pessoas em casa, as conexões por suas redes digitais são virtualmente as únicas possíveis. Enquanto outros setores naufragam, essas novas capitanias do mercantilismo digital consolidam suas posições. Embora os EUA estejam ainda na frente nesse setor, a China vem crescendo muito velozmente e conta com uma vantagem adicional importantíssima, isto é, uma possibilidade de big datas quatro vezes maior que a dos americanos. Um grande conjunto de dados funciona como o principal combustível da inteligência artificial.
Com as bolsas de valores caindo ao redor do mundo, setores inteiros sendo dizimados, o desemprego batendo recorde e o endividamento asfixiante das empresas tradicionais, à beira de uma crise de crédito, as gingantes da tecnologia aparecem como oásis no deserto. Com 20 milhões de desempregados apenas no mês de abril nos EUA, não há liquidez nos bancos e no Federal Reserve capaz de reverter esse quadro recessivo por um bom tempo. E mesmo com a IA e a pandemia gerando fortes incentivos e meios para a reindustrialização norte-americana, há pela primeira vez limites no capital de investimento produtivo da grande potência. O capital especulativo volta para os EUA, mas não se transforma de imediato em indústria. Por outro lado, dinheiro não falta à China e nem muito menos indústrias. Ainda que ela tenha perdas com a reindustrialização parcial em outros países, a China mais do que nenhum outro país consegue operar agora num mundo de economias mais isoladas, tendo em vista seu grande mercado consumidor doméstico potencial. Enquanto os robôs americanos produzirão para 330 milhões de pessoas num mercado preferencial, as máquinas chinesas produzirão para 1,4 bilhões. De modo que o processo de reconversão econômica pelo qual todos passarão pode servir para atenuar o declínio dos EUA relativo à China, mas não impede a constituição de uma nova bipolaridade mundial, onde as novas multinacionais digitais em vez de integrar as economias, na verdade as tornam em capitanias modernas num sistema internacional muito fragmentado. As sete gigantes digitais são mais poderosas do que as maiores petroleiras e bancos. Elas são filhas da globalização. Elas estão em todo lugar e integram pessoas do mundo todo. Mas são monopolistas e anti-globais do ponto de vista das cadeias de produção e serviço.
A nova medida do equilíbrio do poder não se da mais apenas em termos de nações, mas de empresas tecnológicas. A possibilidade de os EUA voltarem a crescer forte no futuro não anula o efeito da nova tecnologia prevalecente. A china vem crescendo mais rápido nesse setor também. Um dos temas mais sensíveis é o que essa transformação representará para a democracia. A China é autoritária. Teremos, portanto, maior influência autoritária no mundo. E mesmo nas democracias, a tecnologia de vigilância propiciada pela IA significa, a um só tempo, mais segurança e ameaça aos indivíduos. A mesma tecnologia que pode, por exemplo, determinar o grau de isolamento social e, com isso, medir o sucesso ou fracasso de uma quarentena, informando políticas públicas de saúde, também pode servir para bisbilhotar as pessoas e controlar os seus passos, numa clara invasão de privacidade que pode no limite inclusive inibir a liberdade política. Essa tecnologia poderá ser usada para o bem ou para o mal, aumentando o poder do Estado e, sobretudo, dessas empresas digitais sobre as pessoas. Um capítulo ainda mais tenebroso nesse assunto são as máquinas feitas para matar. Elas não distinguem condutas morais, não são guiadas por princípios, mas por objetivos, isto é, eliminar alvos, que podem ser terroristas ou apenas políticos da oposição. Há inclusive um grande debate já levado à ONU sobre a necessidade de regulamentar esse setor. Muitos receiam que a IA se torne tão autônoma que um dia descubra que pode ou mesmo deve eliminar a humanidade, na maior das distopias, que têm, no entanto, outras possibilidades menos terríveis, mas igualmente perturbadoras.
Não é difícil imaginar o que acontecerá com as ruas depois que elas se abrirem com tanto desemprego, pobreza e desigualdade. Já passamos por isso. A primeira guerra mundial, a febre espanhola e a crise de 1929 levaram ao surgimento de máfias e ascensão de grupos extremistas e do banditismo em geral. Uma série famosa de televisão, Peaky Blinders, descreve muito bem o que nasce sobre a terra arrasada e traumatizada numa sociedade que acaba encontrando meios criminosos e radicais para se reorganizar e sobreviver. Sempre há quem imponha pela força ou à margem da lei e do estado de direito, um código social de obediência, a partir de líderes e movimentos mais ou menos benignos. Em meio ao caos, anomia, corrupção e incapacidade do Estado em atender a sociedade, a reorganização social se dá a partir, em grande medida, da iniciativa de segmentos mafiosos no subterrâneo da sociedade. A hipótese romântica idealista de que da crise emergirá um mundo mais generoso, feito de maior compaixão e solidariedade, não encontra qualquer respaldo na história nem muito menos na realidade atual, como pretendi descrever ao longo deste artigo. Podemos esperar justamente o contrário. Um mundo mais injusto e até mesmo cruel, onde as ideias de direitos humanos se enfraquecem frente a dureza da escassez, enfraquecimento das organizações internacionais, fechamento de fronteiras, e despotismo dos governos. A pandemia e a desglobalização trazem à tona movimentos de fúria locais, que podem evoluir para revoltas maiores e até convulsões sociais, que em alguns casos poderão ser contornados mediante programas sociais como a renda mínima permanente. Mesmo a China não está livre disso.
As sociedades estão fechadas e devem continuar assim depois da pandemia. Após as quarentenas, podemos ter toques de recolher, decretados pelas autoridades oficiais ou por grupos à margem do poder público em muitos lugares. Além disso, as sociedades serão mais fechadas também para fluxos migratórios, que logo voltarão a aumentar em função do desespero. Não será uma sociedade muito confortável de se viver. Ela se fechará também para valores universais que, na globalização, tiveram mais permeabilidade mundial como nunca antes vista. Até mesmo os críticos da globalização e do liberalismo poderão sentir saudades dessa época de sociedades mais abertas e de possibilidades. A grande desigualdade conhecida nas últimas décadas nem se compara à desigualdade social que está por vir na era das máquinas pós-petróleo. A redução do aquecimento do planeta que ameaça o sistema de climas e a própria humanidade não virá de uma virtuosa cooperação internacional tão desejada, mas da tragédia em um mundo globalizado apenas nas redes sociais. A globalização se baseou no petróleo e em tecnologias integrativas de cadeias globais. Já o mundo pós-pandemia se baseia na diversificação energética com matrizes de fontes de natureza local, e numa tecnologia de IA que, do ponto de vista da produção, é “desglobalizante”. Enfim, há um processo de reconversão econômica já em andamento que leva o mundo a experimentar relações sociais completamente novas. Exceto que algo extraordinário aconteça e não mude muita coisa, o fim da era do petróleo já começou para dar início à era dos robôs. A pós-pandemia inaugura um mundo mercantil neomedieval, como Peaky Blinders futuristas, acompanhados de seus nerds em IA. O santo graal da igreja hegemônica da inteligência artificial é o big data, com todos orando por um lugar ao céu do ciberespaço. Um “deus-filho” que falará conosco com voz cada vez mais humana, a nossa imagem e semelhança.
Bibliografia
ARRIGI, Giovanni et ali (2004). The Resurgence of East Asia. Editora: Routledge.
CHOSMKY, Noam (2012). “Perdendo o mundo”: o declínio dos EUA em perspectiva”. Al Jazeera. http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/02/2012215773268827.html
COUTINHO, Marcelo (2020). “O Coronavírus e Política Internacional”, in METAXY: Revista Brasileira de Cultura e Políticas em Direitos Humanos. Edição suplementar, primeiro semestre.
COUTINHO, Marcelo (2012). Relações Internacionais: evolução e teorias da ciência do mundo. Rio de janeiro: Editora Gramma.
FRIEDEN, Jeffry (2006). Global Capitalism: its fall and rise in the twentieth century. New York: Norton.
HARARI, Yuval Noah (2018). 21 lições para o século 21. São Paulo: Companhia das Letras.
LEE, Kai-Fu (2019). Inteligência artificial: como os robôs estão mudando o mundo, a foram como amamos, nos relacionamos, trabalhamos e vivemos. Rio de Janeiro: GloboLivros.
MEARSHEIMER, John (2001). The tragedy of great power politics. New York: Norton.
MORGENTHAU, Hans (2006). Politics among nations: the struggle for power and peace. New York: MasGraw-Hill/Irwin.
ZAKARIA, Fareed (2008). O Mundo Pós-Americano. São Paulo: Companhia das Letras.