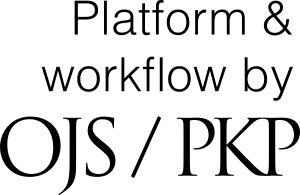DIREITOS HUMANOS, VIDA E SAÚDE PRECÁRIA DO TRABALHADOR: OLHARES SOBRE O CAOS INSTAURADO A PARTIR DA COVID 19 NO ESTADO QUE SE PRETENDE DE DIREITO.
A proposta de pensarmos a saúde do trabalhador na perspectiva dos direitos humanos, na cultura institucional de um país, diante do caos inaugurado a partir da identificação das contaminações e mortes pela COVID 19, requer, minimamente, uma análise da prática efetiva de todos os agentes envolvidos no processo, quer da sociedade civil ou dos poderes públicos e do Ministério Público, quanto aos direitos difusos e coletivos de toda a sociedade, em particular, dos trabalhadores.
No caso brasileiro, note-se que se têm produzido intervenções, de fato, práticas continuadas, que configuram uma política pública de saúde da ordem do possível, arduamente conquistada, que hoje, em momento de crise sanitária mundial, fica evidente como vinha sendo sucateada e privatizada aceleradamente nos últimos anos. A situação não é menos gravosa, inclusive, pelo comportamento dos poderes constituídos, com a ausência de conformidade entre as poucas políticas públicas que restaram e as práxis banalizadoras pela graves precarizações impostas às vidas e à saúde dos trabalhadores.
No que tange à interpretação do princípio da dignidade no trabalho, partimos da premissa da necessidade imperiosa da interpretação transversal dos agentes e potenciais aplicadores de direitos fundamentais e na efetivação de políticas públicas de saúde, para que seja possível a geração de estratégias capazes de consolidar um outro “ethos” social.
É preciso transcender a noção da democracia como consenso, e vê-la como um conflito, espaço de luta, uma verdadeira participação no processo decisório e na partilha de poder.
É de comum sabença que a sociabilidade estruturada na época do trabalho como categoria central, do trabalho fixo, previsível e a longo prazo, base da produção fordista e do consenso welfarista, não mais se sustenta. O que não significa dizer que pensar e ver o trabalho e suas transformações na sociedade contemporânea e na vida das pessoas, dos corpos que trabalham, tenha perdido sua centralidade.
A precarização no mundo do trabalho, reflete a barbárie e violência impressas na vida, em todos os cantos do planeta. Crimes de ódio, rotas migratórias, explorações humanas diversas de crianças, mulheres e homens, dentre tantas outras atrocidades que solapam os direitos humanos... Tudo na contra-mão das promessas republicanas, da paz, do direito e da democracia...
A história nos ensina que nos tempos da depressão, foi promovida a solidariedade e o modelo social do Welfare; já no último quartil do século XX, contraditoriamente mediada pelo avanço científico-tecnológico, descentrou não só o social, como a ética e propôs um modelo de Estado Mínimo, com o qual ainda hoje compartilhamos nossas vivências.
Violência e trabalho continuam irmanadas e a banalização do conceito exclusão/inclusão social vem a reboque dos conceitos de opressão, dominação, exploração, subordinação, entre outros tantos que derivam do exame crítico da luta de classes da sociedade salarial, como mera modernização da definição de pobre, submetido, necessitado, oprimido. Novos termos para antigas práticas. A relação entre exclusão/inclusão identifica a iniquidade da desigualdade.[1]
Temos uma massa de trabalhadores que são os desprovidos de direitos, que integram a “vida nua”[2], tomando por empréstimo expressões de Giorgio Agamben (2004)[3], vivem em verdadeiro Estado de Exceção, à margem de reconhecimento e exercícios da cidadania no encantado e inatingível mundo dos direitos.[4] Estes, dificilmente terão acesso aos direitos na dimensão de sua constituição e reconhecimento como trabalhadores, mas tão somente como criminosos e à margem.
Assim, Estado punitivo e produtivo provocam a intervenção pública, através das políticas, nem sempre lícitas ou com eficácia social em atendimento aos interesses da classe trabalhadora.
Hoje, no Brasil, convivemos com formas jurídicas e mecanismos de exploração de mão-de-obra hiper-precarizadas, mediante uma multiplicidade de formas de contratos, métodos, mecanismos, que integram as relações de trabalho, algumas reguladas pelas legislações trabalhista, civilista, tudo com licitude formal e outras tantas, que se materializam pelo “contrato realidade”, situações de fato (uso de mão de obra de migrantes indocumentados, de refugiados, de população em situação de rua, etc), e outras tantas nem sempre lícitas, ou envolvidas com objetos lícitos, como é o caso da exploração de trabalho escravo, trabalhadores do sexo com subordinação, tráficos de todo tipo – armas, drogas, pessoas, etc -, jogo do bicho, milícia, dentre outras tantas condutas e atos típicos e antijurídicos. Para estes humanos, ainda não temos suficientes nem efetivas Políticas Públicas formais.
Temos que evidenciar as chamadas “relações de trabalho opacas”, especialmente as atividades vinculadas ao ilícito e ao proibido, categorias muito próprias do direito do trabalho, compostas por uma massa de excluídos do mercado formal de trabalho, perversamente constituída “no” e “a partir” do Estado, sistematicamente.
O mecanismo de exploração através de terceirização/quarteirização geminado ao avanço tecnológico, trabalhadores de “dispositivos” e “aplicativos”, sem quaisquer proteções à automação, também são exemplos e os temas da vez da precarização que avança. Formas exploratórias do humano que geram opacidade nas relações, despersonifica o beneficiário com o dispêndio do trabalho do outro e “coisifica” o ser, pela impessoalidade e subtração do subjetivismo do trabalhador. Lhe subtrai a saúde física e psíquica, suga-lhe a própria VIDA. A Covid 19 aprofunda e precipita o fato.
Especialmente após a Lei 13.467/2017, que implementou a reforma trabalhista no Brasil, e trouxe a flexibilização das jornadas de trabalho garantida ao empregador, dentre outras mudanças, constatamos que as práticas legislativas contemporâneas não favorecem o enfrentamento à precarização no trabalho e tampouco as questões de saúde do trabalhador e o Executivo, por sua vez, produz algumas intervenções que não atingem a questão de fundo e estrutural e revela-se dissociado das políticas públicas de saúde potencialmente aplicáveis ao trabalho.
Agora enfrentamos outra medida normativa, Medida Provisória n. 927, pós-crise Covid 19, emanada pelo Presidente da República, que aprofunda a reforma trabalhista em curso e ataca diretamente os interesses da classe trabalhadora brasileira, com suspensões de contratos, acordos individuais se sobrepondo aos acordos coletivos, interrupções, reduções ou supressões salariais, etc. Note-se que é entendimento majoritário na seara trabalhista que os dispositivos do art. 7º da Constituição Federal compõem o chamado “patamar civilizatório mínimo”, que no momento se encontra em “questão” com tal MP.
Ou seja, em tempos de hiper–precarização do trabalho, onde a concepção de “empregabilidade” foi completamente solapada, retorcida e destorcida, o elemento social ganha mais intensidade do que nunca na transmissão de um vírus onde o isolamento social, aparentemente, é a melhor forma de contenção.
Mas quais trabalhadores podem se dar ao luxo de isolar-se do contato social e não fazer, por exemplo, suas entregas pelo iFood, Uber Eats? Ou transportar passageiros pela Uber? Não usar transportes públicos com aglomerações? Ter à disposição EPI´s – Equipamentos de Proteção Individuais? Nos parece que a vulnerabilidade nas condições de vida em geral são determinantes para a morbidade e para mortalidade e, com o Coronavírus e a Covid 19, a situação se aprofunda e precipita.
As desigualdades avassaladoras no nosso país são agravantes das condições de saúde da massa trabalhadora. É fato, inclusive já amplamente abordado pelos campos de pesquisa em saúde, aproximadamente, desde a década de 1980, e se concretiza na idéia da determinação social do processo saúde/doença e na centralidade do trabalho. Portanto, cada vez é mais bem aceita a relação entre a condição social perante a sociedade de classes e a necessária promoção da saúde.
O que nos leva a constatar que o capitalismo em seu caráter excludente, transforma-se a ponto de fazer emergir novas formas de ceifar vidas, especialmente das classes trabalhadoras em suas novas concepções sistêmicas, eis que para as massas laborais não existem as “alternativas”, o privilégio do isolamento, do não trabalho ou do teletrabalho, no caos social instaurado. Vida, ausência de saúde e trabalho hiper-precarizado se irmanam na necropolítica incidente sobre os corpos dos sujeitos que trabalham.
Portanto, é nítido que a morbidade está diretamente vinculada às condições sociais. Ou seja, aqueles que mais estão em maior vulnerabilidade social, também estão mais vulneráveis nas condições de saúde, no seu ambiente e na saúde do trabalho, e por consequência, com maiores propensões a adoecer, ter comorbidades e a estarem expostos a Covid-19.
Decisões governamentais recentes, têm revelado o descompromisso com o princípio que justifica a existência mesma do direito do trabalho: a noção de proteção do sujeito trabalhador e o primado de Justiça Social. Uma noção histórica, conquista da massa dos trabalhadores, mas que também atende ao capital, aos fios visíveis e invisíveis da produção.
Nos dois últimos séculos, tivemos exemplos de crises, em que o Estado foi chamado a regular a relação de trabalho, criando regras de “proteção ao trabalhador”, para viabilizar a continuidade do sistema. Lembramos o ato de criação da OIT, em 1919, ao final da primeira guerra mundial, ou o New Deal nos EUA, em 1929. No entanto, aparentemente, o atual “Estado” ignora a História, e, s.m.j., não vem atuando em respeito à Constituição, cuja premissa fundamental (art. 170) é a de que a ordem econômica se sujeite aos ditames da Justiça Social.
Há, ainda, àqueles que defendem as limitações financeiras do Poder Público, a “reserva do possível” ou “reserva dos cofres públicos”. Entretanto, a “reserva do possível” não deve ser oponível ao “mínimo existencial dos indivíduos”, outro princípio corolário da “dignidade”, e o controle judicial das políticas públicas estão vinculadas à concretização de direitos fundamentais, sempre que o Estado for omisso – total ou parcial – em implementá-las.
Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de aderir, formular e executar, propostas de políticas públicas, revela-se possível, ao Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas, sempre que os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório, vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional.
Em geral, está crescendo o grupo daqueles que consideram os princípios constitucionais e as normas sobre direitos sociais como fonte de direitos e obrigações e admitem a intervenção do Judiciário em caso de omissões inconstitucionais.” Andreas Krell (2002, p. 22/23).
Entendemos que aceitar o papel do poder judiciário na efetividade de políticas públicas é um caminho possível para se tentar assegurar a máxima concretização dos direitos humanos dos trabalhadores, bem como estimular os governantes à realização dos objetivos constitucionais.[5]
Dentre a massa de trabalhadores excluídos do mundo do Direito, os trabalhadores que tem algum acesso ao Judiciário Trabalhista, hoje agravado com a Reforma Trabalhista,[6] nem sempre conseguem a concretização da proposta de Justiça Social.
Pesquisas empíricas na área das Ciências Humanas e Sociais demonstram os inúmeros obstáculos ao acesso à Justiça ainda não superados.[7] Sucintamente, podemos identificar certos aspectos físico-estruturais (como o grande número de processos, poucos Juízes, escassa infraestrutura, número reduzido de profissionais, atmosfera não acolhedora, etc.), características histórico-culturais (como a diferença entre cultura jurídica oficial e cultura jurídica popular, a permanência de um padrão patriarcal e patrimonialista de interpretação dos conflitos, os casos de culpabilização do próprio demandante, linguajar tecnicista etc.) e problemas político-legais (como a escassez do trabalho em rede, a falta de visão da atividade judicante integrada a um projeto maior de política pública, a ausência de capacitação qualitativamente condizente com este mesmo projeto, a legislação antiga e por vezes contraditória, a falta de implementação de condições para o cumprimento.) (Augusto, 2015).[8]
Evidenciamos assim a inacessibilidade da Justiça Especializada a uma expressiva parcela da população da nação e resgatamos a questão da dominação como elemento central para refletir as (im)possibilidades de emancipação humana e de democratização nas relações de trabalho.
Interpretações restritivas da dignidade acabam por compatibilizarem-se com contextos de dominação e exclusão social, sendo necessária à perspectiva da inclusão a busca de conceitos que não sejam redutores da complexidade social, que permita a criação de um espaço de luta e reivindicação de direitos ampliados, especialmente do direito à VIDA.
O risco de depositar confiança nas soluções judiciais – como seria de se esperar no exercício de cidadania – é grande, haja vista algumas das intervenções recentes do Judiciário na política brasileira. Além, disso, a frustração, diante das próprias respostas jurídicas amarradas ao tradicionalismo legalista positivista, que nos remete ao modelo monista jurídico, hoje majoritariamente considerado em crise, que identifica o Direito com a Lei e Norma, com o Direito Positivo Estatal e deposita nele a crença na solução dos problemas, inclusive os sociais. Pode ser um risco a se correr...
Entretanto, bem sabemos, a “questão social” é bem mais ampla e complexa, quiçá, um dia, será inteligível a todos, especialmente aos “operadores” de direito.
A questão se coloca especialmente importante considerada a estrutura política e ideológica da sociedade internacional ocidental, onde os direitos humanos dos trabalhadores consolidam-se como instrumento de defesa, garantia e promoção das condições materiais essenciais à existência e vida digna, com saúde. Mais do que nunca, em tempos de Covid 19: manter-se VIVO.
Nos interessam, sobremaneira, os direitos humanos dos trabalhadores que são também normas fundamentais nacionais, contidas nos direitos sociais constitucionais, cujo comportamento positivo para a implantação, carece da efetividade e exigibilidade de políticas públicas. Tal postura se coaduna, inclusive, com o princípio do não retrocesso, segundo o qual, uma vez conquistados os direitos sociais, passam a constituir, simultaneamente, uma garantia institucional e um direito subjetivo.
Não basta aparelhar, informar ou capacitar o Judiciário ou os demais Poderes constituídos formalmente em nosso Estado “Democrático e de Direitos”. Precisamos ir além, na busca de expertises diversas promotoras da estruturação do trabalhador vitimado, com todas as suas peculiaridades, as quais lhe são inerentes, e com o envolvimento e participação de toda a sociedade civil.
A transversalidade e multidisciplinariedade se fazem misteres, o que, na nossa visão, legitima e potencializa espaços e produções em combate a precarização existente e crescente.
Não se trata mais de discutir o “negociado sobre o legislado”, objeto da Reforma Trabalhista de 2017. Estamos vivendo um aprofundamento daquela Reforma Trabalhista em prejuízo e precarização da vida e da saúde do trabalhador, no meio de uma crise sistêmica e sanitária mundial, em total excepcionalidade, que está a dar elementos justificadores para gestões temerárias adotarem medidas de um Estado de Exceção, e não mais de um Estado Mínimo, sobre o conquistado arduamente e combalido Estado de Direito.
[1] Partilho do princípio enunciado pela Profª. Suely de Souza Almeida, de que a violência em geral, nas suas variadas e numerosas expressões, se encontra no conjunto das desigualdades sociais. ALMEIDA, Suely de Souza. Revista Praia Vermelha nº 11 Estudos de Política e Teoria Social, Rio de Janeiro: PPGSS/UFRJ, 2004. http://www.ess.ufrj.br/publicacoes.htm.
[2] A noção de vida nua parece configurar um análogo correspondente a zôê grega. Com efeito, a vida nua inscreve-se num registro de vida natural humana, isto é, numa existência física, desprovida de qualquer fundamentação ou mesmo abrangência jurídica. Parece, em suma, corresponder à vida nua ao simples ato de existir, esgotando-se o conceito na simples propriedade de existência de vida. Entende-se a vida nua como desprovida/despida de todos os aparatos jurídicos que no contexto atual lhe surgem adstritos e, fatalmente, sujeita aos exercícios de soberania emanados pelo soberano. A vida nua não é mais do que, na formulação do próprio Agamben, a vida biológica do homem. Agamben faz, aliás, corresponder o termo nua ao conceito grego haplôs, o qual define o ser puro. Creio que, o conceito de vida nua se destina ao homem, antes de o mesmo adquirir os atributos que lhe são conferidos pela condição da cidadania.
[3] AGAMBEN, Giorgio. Estado de Exceção. Trad. Iraci D. Poleti- São Paulo. Boitempo, 2004. Deve-se a este filósofo italiano um prolongamento e uma radicalização do conceito foucaultiano de biopolítica, quando nos traz a noção de “vida nua”. O nazismo, enquanto “primeiro estado radicalmente biopolítico”, realizou a indistinção entre a vida natural e a vida politicamente qualificada. Desenvolvendo uma análise da biopolítica nazi, Agamben enuncia uma tese altamente polêmica: o “campo” (o “Lager” nazi) como o paradigma da política moderna. Entendemos que, os trabalhos de Foucault e de Giorgio Agamben constituem, hoje, os centros fundamentais de irradiação teórica da questão da biopolítica.
[4] AGAMBEN, Homo sacer, Il potere sovrano e la nuda vita, Piccola Biblioteca Einaudi, 1995, “O totalitarismo do nosso século tem o seu fundamento nesta identidade dinâmica entre a vida e a política e, se não a tivermos em conta, permanece incompreensível”.p. 165. E reforça: “A tese de uma íntima solidariedade entre democracia e totalitarismo […] deve ser firmemente mantida porque só ela nos permitirá orientar face às novas realidades e às imprevistas convergências deste fim de milênio, abrindo o caminho para a nova política que está em grande parte por inventar”.Op. cit. p. 14.
[5] STF na possibilidade de controle judicial de políticas públicas, nos termos da decisão proferida na ADPF nº. 45, cujo relator foi o Ministro Celso de Mello.
[6] A Lei 13.467/2017, no tema da saúde tem incomum parágrafo, no artigo 611-B dizendo que “regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins do disposto neste artigo”. Ora, não é comum ter-se um parágrafo de lei determinando que se esqueça um aprendizado, de áreas afins como a medicina e outras da saúde, de certo modo, já incorporado ao direito. Quanto maiores as jornadas, maiores os números de acidentes e doenças do trabalho. Em tempos de “isolamento” o teletrabalho, sem limites de jornadas, é uma realidade. Os benefícios dos intervalos regulares, igualmente, são conhecidos dos médicos e demais profissionais da saúde e do direito. Igualmente, não se acredita que as crianças de até seis meses aceitem a troca dos horários de amamentação, ainda que lhes expliquem a nova regra do inciso XXX, do artigo 611-B, inserido na CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, pela mencionada Lei 13.467.
[7] A título de exemplo, Relatório da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito in http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=133656&
[8] Relatório Final da pesquisa coordenada por Cristiane Brandão Augusto, intitulada “Violência contra a Mulher e as Práticas Institucionais”, inserida no Projeto “Pensando o Direito e as Reformas Penais no Brasil”, de iniciativa e fomento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Ministério da Justiça do Brasil (no prelo).