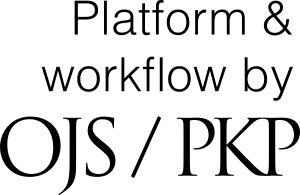PANDEMIA: “A HISTÓRIA SE REPETE COMO COMO TRAGÉDIA OU COMO FARSA”
Por Marialva Barbosa – professora titular da Escola de Comunicação da UFRJ e pesquisadora do CNPq.
A célebre frase de Karl Marx, na abertura de O 18 de Brumário de Luís Bonaparte (1852), ainda que se refira a outros contextos e à conjuntura política da França do século XIX,[1], serve como epígrafe do texto que ora apresento e que trás algumas reflexões, a partir da história, sobre o terrível momento em que estamos mergulhados.
Quando era bem pequena ouvia, com certo estranhamento e espanto, meu pai descrever cenas que ficaram fixadas nas suas retinas de menino: caminhões repletos de corpos, centenas, trafegando pelas ruas dos subúrbios da cidade e recolhendo a cada esquina mais corpos que eram colocados uns sobre os outros. Nas valas abertas nas ruas, outros corpos, alguns ainda agonizantes, que acabavam de ser mortos com o gesto piedoso de uma pá ou picareta que colocava fim àquelas existências. Muitas vezes escutei essas histórias e não sabia que elas tinham ficado guardadas na minha memória.
Quando agora, na segunda década de século XXI, uma nova peste tomou conta de nossas vidas – ameaçando não só nossas existências, mas os modos como nos colocamos no mundo –, imediatamente as descrições foram acionadas e se transformaram em imagens-lembranças duradouras que transformo em palavras.
As cenas descritas por meu pai eram da gripe espanhola de 1918. Ele, então um menino de oito anos vivendo no subúrbio do Engenho de Dentro, presenciara aqueles momentos e jamais esquecera. De fato, não há como esquecer nenhuma dessas imagens.
Cento e dois anos depois vivo um novo tempo de miséria humana, proporcionado, apenas em parte, por uma doença que ceifa vidas sem piedade. Ao tentar sobreviver numa quarentena e inspirada pela faceta de historiadora, fiz o gesto de procurar em alguns periódicos da época as imagens que ficaram imortalizadas e que poderiam revelar as ambiências e as sensações de um outro tempo.
Deparei-me, então, com dezenas de fotografias, publicadas não só nos jornais mais importantes da época (Correio da Manhã, Gazeta de Notícias, O Paiz, A Noite, Imparcial), mas também em revistas (Careta, O Malho, Revista da Semana). São imagens impactantes, que permitem sentir muitas das sensações que atribuíamos apenas ao nosso presente[2].
Cada uma traz para o presente acontecimentos do passado e que estamos vivendo novamente, mostrando que a história serve para muitas coisas, se, a partir de acontecimentos monstruosos vivenciados, ações forem produzidas no sentido da transformação do mundo e dos homens que aqui habitam. Mas parece, definitivamente, que o passado foi esquecido e que, como tragédia, ele volta, trazendo impressionantes conexões com o presente em que vivemos.
Nas imagens presentes nas revistas da época, a primeira que chama a atenção mostra a avenida Rio Branco, no centro do Rio, completamente deserta num sábado à tarde. Não porque tenha sido instituído o isolamento obrigatório – na época, foi decretado apenas feriado por três dias, 19, 21 e 22 de outubro[3] -, mas por ter a gripe atingido de tal forma a população que a maioria estava doente ou morta.
A visão geral das enfermarias dos hospitais, coalhadas de doentes de um mal que, em média, matava em quatro dias, é outra imagem que aparece com frequência nas publicações. A maioria da população, entretanto, não teve acesso a qualquer assistência médica. Não havia nem médicos, nem hospitais, nem recursos para os mais pobres.
Para os pobres, sobretudo os que viviam nas áreas mais afastadas, os subúrbios, distribuíam-se, nos quartéis, em postos improvisados da Assistência Pública, nas escolas e nas igrejas, pão, água e sopa a fim de matar a fome dos muitos que a sentiam. Pelas ruas, desnorteados, os “desvalidos”, como eram chamados, não conseguiam muitas vezes os mantimentos necessários à sobrevivência.
Duas imagens, entretanto, são ainda mais impactantes: mostram cenas que ainda hoje chocam as nossas retinas. No entanto, elas podem se repetir, como tragédia, cem anos depois. Na primeira pode-se ver os doentes sendo carregados, enquanto outros – ainda vivos ou já mortos – eram depositados no chão, à espera do auxílio ou do sepultamento que, por vezes, tinha de ser aguardado por dias.
Os caixões ficavam insepultos, amontoando-se nos cemitérios. Também não havia coveiros suficientes para abrir as covas. No auge da pandemia, os presidiários foram convocados para realizar o serviço.
E, finalmente, os periódicos mostram fotos, que reproduzem as cenas que ficaram guardadas na memória duradoura de meu pai, que as transmitiu para mim – numa cadeia memorável. Pela ação da imprensa, que procura construir textualidades para a história, podemos vê-las cem anos depois. É a cena do caminhão coalhado de caixões, no qual, para caber mais, é preciso ajeitar a carga, já que o número de mortos era tão grande que os corpos ameaçavam cair da carroceria.
Não precisamos fazer explicitamente aproximações com o que vivemos hoje, no século XXI, diante de mais uma pandemia. Está tudo muito claro. As ruas desertas; os hospitais sem recursos suficientes para atender a quantidade de gente à procura de auxílio; os pobres, que recebiam antes pão, água e sopa (agora se ganha o chamado “Auxílio Emergencial”); os corpos dos mortos ao lado dos vivos; as valas abertas nos cemitérios para receber os milhares que aguardavam o sepultamento.
Há muitos outros elementos coincidentes entre a pandemia atual e a de 1918: a demissão de Carlos Seidl, então diretor de Saúde Pública, no auge da gripe espanhola; o surgimento de “medicamentos” milagrosos (por exemplo, “vinagre de frutas” e “limão tomado como refresco”); os conselhos para evitar a doença (“lavar as mãos e o rosto com bastante sabão e sempre que possível”, “evitar aglomerações”, “não fazer visitas”, “evitar bebidas alcóolicas”, como divulgava incessantemente a Diretoria Geral de Saúde Pública); e a informação muito repetida de que “o doente era um foco ambulante da moléstia”[4].
As descrições das cenas do cotidiano das pessoas também são incontáveis. Transcrevo apenas uma, de 2/11/1918, publicada na página 8 da revista Careta, com o título “Episódios do tempo da peste”, que, com precisão de detalhes, narra os horrores vivenciados:
“São oito e meia horas da manhã de uma quarta-feira cheia de sol. A esquina da rua Pedro Américo e Catete, na delegacia, a uma quadra do Palácio do Governo, para um caminhão conduzindo cadáveres descobertos, sem caixão, estendidos nas taboas. O caminhão ali estaciona, durante uma hora, diante da quitanda, do açougue, da venda, da padaria. Quando esse parte, chega o segundo, expondo o corpo morto de uma pobre mulher, cuja saia rota na alvura do ventre, põe uma nota de crueldade indecorosa nessa miséria fúnebre. O terceiro caminhão chega às dez, e enquanto o condutor vai beber um parati no botequim fronteiro, as crianças trepam pelas rodas, para espiar os defuntos. O quarto caminhão, contendo numerosos cadáveres, aparece às onze e desaparece ao meio dia e por onde roda espalha um cheiro desagradável e entontecedor. Na rua do Catete, na rua Barão de Guaratiba, na rua Pedro Américo, uma assustada multidão, desentocando-se das casas fechadas, vem contemplar a passagem desses trágicos carros. Os passageiros dos bondes levam ao nariz os lenços.
Gostaria de terminar esse texto com duas reflexões que, a meu ver, introduzem ampla discussão sobre o sentido da história e que podem fornecer inúmeras possibilidades num presente incerto e, de certa forma, apavorante como o atual – assombrados que estamos diante de uma pandemia que dizima milhares de vidas em todo o mundo. A história sempre nos ajuda a atravessar caminhos de incertezas e possibilita pontes que permitem vislumbrar um futuro melhor.
É preciso, porém, ter em conta que, como diz Marx, na página 14 mesma obra anteriormente citada, os homens que são responsáveis pela produção da sua própria história, “não a fazem segundo a sua livre vontade, não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas com que se defronta diariamente, legadas e transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos”.
No epílogo feito por Herbert Marcuse, escrito para a edição de 1965 do mesmo livro, o pensador, ao constatar que quando Marx escreveu o texto não conhecia o horror dos períodos fascista e pós-fascista, se atribuiu a prerrogativa de corrigir as sentenças introdutórias de O 18 de Brumário. Diz ele, na página 19: “os fatos e personagens da história mundial que ocorrem, por assim dizer, duas vezes, na segunda não ocorrem mais como farsa. Ou melhor: a farsa é mais terrível do que a tragédia à qual ela segue”.
Referências:
MARCUSE, Herbet. “Prologo”. In: MARX, K. O 18 de Brumário de Luís Bonaparte. São Paulo: Boitempo, 2011.
MARX, Karl. O 18 de Brumário de Luís Bonaparte. São Paulo: Boitempo, 2011.
[1] Na obra, Marx analisa o golpe de Estado que Luís Bonaparte desferiu na França em 2/12/1851 e, a partir do exemplo francês, aborda a questão da luta de classes como motor da história. A frase de Marx, logo na abertura do texto, é: “Hegel observa em uma de suas obras que todos os fatos e personagens de grande importância na história do mundo ocorrem, por assim dizer, duas vezes. E esqueceu-se de acrescentar: a primeira como tragédia, a segunda como farsa”.
[2] A maior quantidade de imagens foi publicada na revista Careta, nas edições 540, 541 e 542, respectivamente de 26 de outubro, 2 e 9 de novembro de 1918. Cf. Hemeroteca Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=083712&pasta=ano%20191&pesq. Acesso em 04 de abril de 2020.
[3] O dia 20/10/1918 foi um domingo.
[4] Todas as citações foram retiradas dos jornais da época:. O Paiz, 26 set. 1918; O Paiz, 15 out. 1918, O Paiz, 22 out. 1918; A Noite, 18 out. 1918, entre outros.