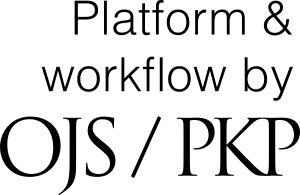DISTANCIAMENTO SOCIAL E SOLIDARIEDADE PROVISÓRIA
Por Marcelo Coutinho - Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
No artigo “Pandemia e Desglobalização” (2020), menciono logo no final o surgimento bastante provável de movimentos de fúria e toques de recolher paralelo à crise sanitária e econômica que assolou o planeta. O texto foi escrito um mês antes das revoltas nos Estados Unidos começarem, decorrentes da morte asfixiante de George Floyd por um policial de Minneapolis, a maior cidade do estado americano de Minnesota. Em função do que aconteceu - boa parte das cidades americanas tiveram toques de recolher -, agora tenho a oportunidade de aprofundar o entendimento das relações existentes entre o isolamento social e os movimentos de fúria, ou de amor, se preferirem, tendo em vista, que a “primavera americana”, iniciada politicamente no dia 30 de maio, é estimulada por sentimentos de indignação e raiva, baseadas numa forte identificação sócio-afetiva da população com a vítima que simboliza inúmeros outros casos semelhantes dentro e fora dos EUA, a começar pelo Brasil. Este foi um assassinato que comoveu o mundo e precipitou uma onda de protestos de rua, em sua grande maioria pacífica.
A morte de Floyd não é o primeiro caso de violência policial e racial. Acontecem violências parecidas com bastante regularidade. O que teria, então, feito dessa vez desencadear um movimento histórico tão intenso como este? Certamente pesou a barbaridade do que aconteceu. Uma imagem forte, sem dúvida, de causar indignação. No entanto, a dramaticidade do fato seria insuficiente para entender toda a comoção, tanta articulação de ações de protesto que veio logo em seguida. “Eu não consigo respirar” é muito mais do que o peso do corpo sobre o pescoço de uma única pessoa ou grupo social específico. É muito mais do que racismo, que certamente causou essa falta de humanidade. “Eu não consigo respirar” virou um símbolo de algo bem maior, que envolve relações raciais, mas também todo tipo de repressão e opressão vivida hoje pela sociedade em muitos lugares (Gurovitz, 2020). “Eu não consigo respirar” significa eu não aguento mais uma sociedade injusta, eu não aguento mais tanta desigualdade, eu não aguento mais falta de liberdade real, falta de pluralismo, eu não aguento mais um estado de coisas que sufocam principalmente negros e pobres, mas também todos que se encontram, de uma forma ou de outra, cansados de viver em um mundo de mentiras alimentadas pelo poder. O nó aperta a garganta de diferentes comunidades, em diferentes países. O mal estar é global. E a morte de Floyd produziu um grande acontecimento, assim como o tunisiano que tocou fogo no próprio corpo acendeu a primavera árabe em 2011. Trata-se de um estopim, semelhante a outros, mas que, ao encontrar um contexto social e internacional de exaustão muito propício, entra definitivamente em ebulição para a história.
A sociedade atualmente vive um nó de insatisfações. E, como todo nó, ele entrelaça e articula uma junta de coisas, formando um bolo emaranhado de problemas. Esse nó de insatisfações amarra de tal forma a sociedade contemporânea que, cedo ou tarde, acaba se transformando em revolta nas ruas. O racismo é um antigo mal entalado na garganta, por assim dizer. Todavia, várias demonstrações de solidariedade entre policiais e manifestantes nesse mesmo episódio nos EUA permitem talvez pensar que algo mudou ou está mudando. Não se trata mais de negros versus brancos, e sim de racistas versus anti-racistas, numa coalizão de múltiplas cores e status sociais, o que leva a crer que seja diferente da época de Martin Luther King e Malcolm X na luta contra os supremacistas, agora bastante isolados em guetos minoritários da sociedade, ainda que ativos. Não à toa, Trump perdeu muita popularidade ao assumir uma postura belicista. O mundo de alguma maneira evoluiu, ainda que não saibamos com certeza qual será o resultado no fim dessa história. Além disso, é interessante observar que os movimentos nos EUA contagiam o mundo ocidental quase imediatamente, fazendo aflorar também ações semelhantes de combate ao racismo, mas não só ao racismo. As revoltas a partir do assassinato de Floyd representam o início de algo ainda maior ao unificar bandeiras múltiplas. Mais ou menos como um paiol que, ao incendiar, estoura todo tipo de fogos e munições ladeadas, a morte de Floyd virou símbolo de todo tipo de autoritarismo e discriminação. Não à toa, emergem grupos anti-fascistas com distintas agendas, capazes de reunir diferentes segmentos da sociedade num grito uníssono contra a opressão.
Em inúmeros artigos publicados no Correio Braziliense, entre os anos de 2015 e 2017, como no texto “Solidão” (Coutinho, 2016), tive a oportunidade de desenvolver o conceito de solidariedade provisória, como uma chave de leitura para a compreensão da sociedade contemporânea. Acredito ser oportuno discutir a eclosão dos movimentos de fúria pós-pandemia a partir desse novo conceito, de uma maneira que certamente distanciará minha análise das comumente feitas com relação à possibilidade do surgimento de maiores laços de solidariedade entre as pessoas. Sou parcialmente cético quanto a isso, e relativamente pessimista quanto à natureza da sociedade que está em gestação bem antes da pandemia, mas que por ela precipita etapas. A meu ver, vivemos cada vez mais “em sociedades onde as confidências e identidades são provisórias, muitas delas vinculadas exclusivamente ao dinheiro, e onde há cada vez menos solidez e abrangência emocional entre as pessoas, as relações são superficiais e a solidão um resultado quase inevitável” (Coutinho, 2016a). Estamos numa época em que as pessoas se solidarizam umas com as outras, sentem genuína compaixão, mas tais sentimentos morais agora duram pouco tempo. Eles se desfazem diante da rotina massacrante que, pouco a pouco, diminui a empatia como elemento estrutural da humanidade. Seguimos de desastre em desastre, de tragédia em tragédia, de fatos chocantes em fatos chocantes, mas não mudamos o nome do jogo já estabelecido bem antes da pandemia, que é o progressivo distanciamento social.
Em "O mal-estar na civilização", Freud (1930/2011) nos diz que uma das principais explicações para o sofrimento humano pode ser encontrada na própria relação interpessoal. Segundo o pai da psicanálise, o indivíduo convive a contragosto socialmente apenas para tornar sua vida conjunta viável e dela tirar vantagens em amor à própria imagem, como se um narcisista cometesse um sacrifício oportuno. Traduzindo em miúdos para o que nos interessa nesse artigo, pode-se concluir que a fuga da solidão é uma forma de ninguém se achar estranho, movido por pulsões eremíticas. Suspeito que esse movimento freudiano hostil dos sujeitos contra a pandemia é definitivamente consagrado como pedra angular da sociedade, ainda que de uma maneira um tanto distinta da que Freud pressupunha. Hoje, assistimos a uma fuga para a solidão e não contra ela.
“O mal-estar no laço social ocorre para Freud porque é imposto por dogmas, sobretudo religiosos. As pessoas são obrigadas as estarem umas com as outras mesmo sem se gostarem, numa solidariedade pastoral forçada. A solidão, nesse sentido, vira também uma forma de se manifestar contra “a miséria psicológica da massa”, aquela que esvazia as singularidades e uniformiza todos os desejos e escolhas. Apenas numa sociedade onde se diz "desfrute sendo autossuficiente e sociável", o isolamento é compatível com um mundo conectado 24 horas.” (Coutinho, 2016a).
A partir do conceito de solidariedade provisória talvez possamos dizer que o mal estar da sociedade não se deve porque as pessoas são forçadas a tolerarem a convivência, mas justamente porque não são mais forçadas a isso como antes. Não há necessariamente essa aversão das pessoas em relação as outras, rompida apenas pelo interesse egoísta. O campo do afeto existe, ele é real. As pessoas se gostam e se aproximam e se aglutinam numa causa comum. A questão não é essa, mas o quanto estão dispostas a permanecer numa relação solidária. A meu ver, cada vez menos os indivíduos elaboram movimentos e ações coletivas duradouras. Daí chamá-los de “movimentos de fúria”, ou de paixão passageira, que até geram algum efeito prático, mas não se institucionalizam como uma unidade social organizada para muito além do episódio dramático que os originou. Existem muitos exemplos na história de um tipo de solidariedade que criou novas estruturas perenes, talvez a Revolução Francesa, com a ideia de fraternidade, seja o caso mais emblemático disso. É interessante lembrar agora do ideal de fraternidade moderno porque tem tudo a ver com essa discussão de hoje. A fraternidade parece ser algo cada vez mais pontual e bem menos fecundo na criação de novos regimes democráticos, novas sociedades ou pelo menos de instituições civilizatórias duradouras.
Os laços sociais na atualidade são facilmente abertos pelas novas tecnologias e liberdade de comunicação. Porém, as pessoas buscam a solidão justamente porque se sentem vulneráveis em ambientes sociais para elas de alguma forma ameaçadores ou problemáticos. Isso é o exato oposto do que dizia Freud. As pessoas não têm mais receio de serem vistas isoladas e taxadas de esquisitas. Ao contrário disso. Elas temem ser expostas na rua como pessoas estranhas na multidão. Em resumo, as pessoas continuam tendo pulsões eremíticas, mas perderam o medo de serem vistas preconceituosamente dessa forma. O isolamento é hoje um bem, um atributo valorizado, e não foco de estigma. O negativo é aquele que cede ao populismo das ruas, ao abraço fácil e à aglomeração irresponsável. Por sua vez, “a miséria psicológica da massa” em vez de esvaziar as individualidades se apresenta como uma forma de fazer aparecê-las de uma maneira muito diversa, que antes mesmo de uniformizar desenhos e escolhas elas se desfazem rapidamente no tempo, dando lugar a outra reunião de pessoas também passageira. Existem muitos movimentos acontecendo ao mesmo tempo e sucessivamente, que em vez de esmagar o indivíduo, permitem a ele se vestir com a roupa da ocasião para cada “baile”, assumindo uma filiação social multifacetada e muitas vezes pós-moderna. O mesmo indivíduo é uma coisa hoje, amanhã outra, depois outra e outra, mesmo que, ao ficar em casa, ele volte a ser o mesmo eremita de sempre. Ou seja, o mal estar existe, mas porque as pessoas agora não identificam mais nem nelas mesmas alguma identidade confortável mais fixa do ponto de vista afetivo, social e psicológico. Tudo é fluxo e incerto, e tudo isso gera agonias e ansiedades, como um equilibrista em cima do fio balançando para todos os lados.
Então, por que as pessoas participam de movimentos de fúria? Por que eles acontecem se todos estão cada vez mais individualizados? No caso específico das “antifas”, as pessoas vão para as ruas protestar contra o fascismo justamente porque saem em defesa de serem como são e não como o totalitarismo espera que elas sejam. O totalitarismo é típico de uma modernidade antiga na qual as filiações identitárias são permanentes, a exemplo do que acontecia com o nazi-fascismo e o comunismo que tornavam, cada um a seu modo, todos iguais massificados, acabando com as individualidades e idiossincrasias, obrigando a um tipo de militância extrema, única, rígido e invariável, a tal ponto que um holocausto é possível com o apoio da população aderida até o fim extremo de uma causa doente. Em termos mais gerais, podemos dizer que as pessoas querem simplesmente serem idiossincráticas e mais flexíveis, numa típica modernidade líquida, como nos ensina Zygmunt Bauman (2007). Daí o paradoxo. O que faz os indivíduos aderirem a movimentos de fúria também provoca o mal estar diário nesses mesmos indivíduos de não terem um porto seguro, sob o abrigo ou conforto de uma única ideologia ou convenção social à qual se pode escorar. O fim da ideologia é o fim das chances de o totalitarismo prosperar, mas também o início de um novo tipo de incômodo social porque as pessoas se encontram perdidas sem algo em que se agarrar diante das suas próprias insatisfações, que as levam agora a surtos de protestos passageiros.
Em sua maioria, as pessoas querem ter o direito de livre sentimento e relacionamento, que as antigas estruturas sociais proibiam ou constrangiam. Enquanto supremacistas se casam com supremacistas, trabalham com supremacistas, desenvolvem todo um conjunto denso de relações invariáveis supremacistas, mantendo um ódio racial constante que estrutura toda sua vida, hoje as pessoas nem querem mais se casar. Os casamentos duram pouco, o amor é passageiro assim como o ódio. Por isso mesmo, ainda que o autoritarismo prospere na esteira do enfraquecimento da democracia representativa, a ditadura dificilmente assume uma versão totalizante como no passado, capaz de durar anos ou mesmo décadas. A China, que é o maior símbolo do autoritarismo na atualidade, não tem uma ideologia totalitária, uma ideologia unificada. A China comunista é justamente o novo centro do capitalismo e dessa sociedade de massas isoladas. Aliás, a diferença entre autoritarismo e totalitarismo nunca foi tão pertinente quanto agora para diferenciar as novas ditaduras das suas antecessoras na era dos extremos (Linz, 2000 e Hobsbown, 2001).
Os fascistas ou grupos com pensamentos totalitários em geral não têm empatia ou têm empatia altamente seletiva a partir de uma identidade ideológica, racial ou de outra natureza qualquer. Eles podem, por exemplo, achar um absurdo a perseguição ou humilhação a um dos seus integrantes, em um nível até elevado de solidariedade grupal, mas ao mesmo tempo ajudarem a perseguir e a humilhar outros de visões diferentes porque só se colocam no lugar de pessoas semelhantes, com as quais compartilham afinidade. Uma torcida de futebol pode ser totalitária ou não, pode pretender ser única ou não. Ela pode achar normal o linchamento físico ou moral de alguém de uma outra torcida, ou mesmo sem torcida, ou podem estender sua solidariedade e compaixão a membros de todas as torcidas rivais. Essa é uma diferença muito importante na discussão dos direitos humanos quando envolve disputas propriamente políticas e não meramente futebolísticas. Os totalitários lidam de uma maneira intolerante e agressiva com as pessoas de outros partidos ou linhas de pensamento. É fácil observar isso quando os ânimos sobem em períodos eleitorais, mas também depois deles, quando sobram mágoas e rancores, e o Estado segue por um dos caminhos dominantes. O problema não é o debate acalorado, que faz parte da democracia, mas a fervura que não esfria nunca, não se acalma, a não ser pelo cinismo. Uma cabeça não totalitária em algum momento apazigua e muda de assunto, mesmo mantendo fortes discordâncias. O totalitarismo, não. Ele não descansa enquanto não suprime o grupo rival e impõem-se hegemônico, único, absoluto e sem contradições.
A maioria das pessoas tem empatia em graus elevados, e uma dose maior de pluralismo ou flexibilidade. O problema hoje é que tal empatia é frágil ou curta no tempo, isto é, ela se faz pelo drama comovente da situação específica e logo em seguida se desfaz diante da rotina da vida que prevalece. Às vezes, essa empatia cria ondas de protestos que duram apenas algumas semanas até tudo voltar ao “normal”, como ocorreu no Brasil em junho de 2013. Em “A teoria dos sentimentos morais” (1997), seu primeiro livro, Smith dedica especial cuidado à simpatia (ou empatia) como aquela afeição que se tem por um semelhante, quando se põe no lugar dele, inclusive em dor e sofrimento, ou mesmo quando existe alguma sensação de companheirismo, de pertencimento partilhado, de comunhão. Enfim, quando as pessoas se sentem ligadas emocionalmente a outras num parentesco de sentimentos. Mais do que atrair-se e querer alguém por perto, simpatizar é desejar o que o outro deseja, compartilhar os seus sonhos. Essa similitude de sentimentos é, para o pensador escocês, a base da afinidade moral que torna sociáveis pessoas movidas pelos seus próprios umbigos. Exatamente essa empatia que vem sofrendo mudanças. Vivemos ainda sob o individualismo piedoso, e não compusemos sociedades desalmadas como muitos pode acreditar. O totalitarismo de esquerda e de direita, sim, forjou sociedades sem alma no passado. No entanto, a nossa sensibilidade pós-totalitária é frágil, muda sua atenção e demandas para coisas cada vez mais pueris, e nos isolamos em casa, tão logo passe o clamor das ruas de cada momento. E esse isolamento social é um ingrediente para retrocessos autoritários.
O mundo nunca foi tão democrático, e a democracia nunca foi tão questionada quanto agora. Um grande paradoxo, mas compreensivo. O comportamento político esperado em regimes abertos tem sido desafiado até mesmo nos EUA, onde um discurso extremista nas eleições presidenciais já foi muito longe. Os cientistas políticos Stepan Foa e Mounk publicaram um artigo sobre o assunto no Journal of Democracy (2016). Em “The Danger of Deconsolidation: the Democratic Disconnect”, os autores mostram como as pessoas em democracias consolidadas passaram a ser não só descrentes dos seus representantes, como também cínicas em relação aos valores da poliarquia, abrindo, assim, um caminho para soluções autocráticas como há muito tempo o Ocidente não via, ainda que a comunidade internacional democrática esteja em permanente vigilância para desestimular golpes e rupturas institucionais.
Os valores democráticos estão completamente associados a uma modernidade civilizada. Não há dúvida de que a humanidade foi mais próspera, inteligente e gerou mais bem-estar social com a expansão da democracia do que foi com qualquer outro regime político. Por isso mesmo, a tese da “desconsolidação” é inquietante, pois significa retrocesso e obscurantismo. O professor de Política Internacional, Daniel Drezner (2016), chegou a escrever artigo alarmante no mesmo sentido no The Washington Post, chamando 2016 de “o ano da decadência democrática”, em alusão direta ao fator disruptivo representado pela última convenção do Partido Republicano que indicou Donald Trump. Na contramão desse pessimismo, e com base no livro “Age of Discovery”, dos professores de Oxford, Goldin e Kutarna, Thomas Friedman sugere em artigo do New York Times, intitulado “Another Age of Discovery”(2016), estarmos vivendo uma “nova renascença”, com um extraordinário e positivo mundo se abrindo diante de nós, à exemplo do que aconteceu entre 1450 e 1550.
Como no passado distante, o mundo vive de novo período de rápida transição para algum cenário que ainda não se sabe ao certo, a não ser que é um divisor de águas na nossa história. São inúmeras transformações, sobretudo, advindas do campo científico-tecnológico. Realidade virtual, sequenciamento do genoma humano e o que se denomina hoje de “deep learning” promovem algo que escapa às teorias convencionais sobre a sociedade moderna (Harari, 2019, Boltron, 2019 e Pinker, 2018). Afinal, estamos nos afastando da idade das trevas ou voltando para ela? O relativismo pós-modernista é tão grande que não há segurança nem mesmo sobre as definições para cada era que vivemos. Se a ocasião dos descobrimentos levou à mudança do feudalismo para o capitalismo, não aparece no horizonte ainda quais mudanças ocorreriam no atual sistema de mercado global.
A intolerância nos EUA e na Europa, o autoritarismo na Turquia e os ataques terroristas seriais não ajudam a imaginarmos um mundo ventilado e inspirador. Tampouco parece fácil encontrar quem seriam os Leonardos da Vinci e Michelangelos da nossa época. Embora tenhamos mais Copérnicos, Colombos e Vascos da Gama do que em qualquer outro momento da história, cresce o fundamentalismo religioso e posturas isolacionistas. Provavelmente, o mal-estar generalizado com a democracia seja fruto do seu próprio intercurso. Os processos de abertura política no mundo rompem há décadas com as estruturas das sociedades tradicionais de uma maneira aparentemente sem volta para estas. Todas as novas mudanças são, em especial, importantes a países como o Brasil, que germinado na era do descobrimento, até hoje enfrenta uma modernização tardia. Seja como for, há um debate aberto sobre os riscos da desconsolidação da democracia, da integração global, da dissociação entre acordos internacionais de direitos humanos e a política doméstica, e o surgimento desregulamentado da inteligência artificial que preocupa (Risse, 2019; Fallon, 2018; Plattner, 2019; Bizzarro e Mainwaring, 2019; Nodia, 2017 e Howe, 2017). Embora a primavera americana possa agora elevar o otimismo em torno do futuro da democracia, são até aqui poucos os trabalhos recentes que ainda evidenciam com pesquisa científica alguma esperança quanto aos direitos humanos no século XXI (Sikkink, 2019).
A discussão sobre os desafios da democracia e dos direitos humanos está intimamente ligada ao que se passa nas relações sociais na contemporaneidade. A solidariedade provisória entre solitários globais é a nova forma de combinar auto-interesse com sentimentos efêmeros pelo próximo. Não nos desumanizamos exatamente, como supõe a hipótese de dissolução da simpatia, mas já somos menos apegados e martirizados por nossas afinidades. O apreço no mundo atual exige menos esforço, o suficiente para um simples “curtir” ou “emoticons” simpáticos nas páginas de Internet e redes sociais eletrônicas. Não perdemos a capacidade de nos comover, mas também não nos prendemos a isso num mergulho ao fundo da alma. A vida tem que seguir o fluxo cada vez mais rapidamente, a fôlegos curtos e incisões pontuais.
As novas tecnologias, o mercado de trabalho, a violência nas ruas e a própria pandemia incentivam o isolamento social. No entanto, as pessoas não estão totalmente satisfeitas em poderem, afinal, viver a sua própria solidão porque há um forte estranhamento quanto aos novos padrões de comportamento, ainda em processo de adaptação. Além disso, se por um lado a crescente falta de empatia é alimentada pelas novas tecnologias, por outro, elas esbarram no aumento das restrições econômicas. O mal estar é também, portanto, ser como se quer ser vivendo num mundo agora com menos esplendor de prosperidade material. Juntando tudo isso, podemos concluir que caminhamos para relações de maior comodidade, superficialidade, e menos inflacionárias. As pessoas estão aprendendo a viver nesse novo mundo, mas tudo precisa também se adaptar ao que elas esperam, aos seus desejos de conveniência flexível. O mal estar encontra um novo ponto de equilíbrio meio instável nesse conforto ou aconchego de relações mais domiciliares em delivery de comida, objetos e até de afeto. As entregas se aceleram enquanto nos distanciamos paralelamente.
O distanciamento social vai muito além das quarentenas e lockdowns na pandemia. Ele faz todo sentido nessa sociedade que procuro compreender já há alguns anos pelo conceito de solidariedade provisória. Do ponto conjuntural, em razão da transmissão de um vírus, esse distanciamento significa que as pessoas se mantêm temporária e fisicamente afastadas umas das outras para não adoecerem ou não ajudarem a espalhar o contágio. Há nele uma motivação egoísta, mas também solidária, sobretudo quando o afastamento parte dos mais jovens, com risco menor de morte. Já pelo lado estrutural, o problema assume um significado mais amplo e permanente, em que o distanciamento é afetivo e se dá pelo enfraquecimento prolongado dos laços sociais, a despeito da pandemia. Ou seja, aqui se manifesta mais claramente o que chamo de solidariedade provisória, pois mesmo em compaixão localizada, no dia a dia, as pessoas acabam virando as costas umas para as outras com laços frágeis entre elas. Minha hipótese é a de que quanto menor o distanciamento social estrutural, maior é a adesão ao distanciamento social conjuntural, justamente por causa do papel social que a solidariedade desempenha.
O Brasil é um caso muito interessante para utilizar essas definições. Apesar de uma parte antiga da literatura nos associar a um perfil de sociedade mais amigável, simpática e generosa (Buarque de Olanda, 1997), existem cada vez mais estudos no sentido contrário, de que somos uma das sociedades mais violentas e desiguais do planeta, logo também bem pouco caridosas e preocupadas com o bem público. Podemos ser de festas e confraternizações, gostamos mesmo de eventos e aglomerações. Porém, o nosso distanciamento estrutural é gigantesco no que importa para os verdadeiros laços sociais de solidariedade quando a festa acaba. Não à toa nos associam muito a um lugar de baixo capital social, um país em que as pessoas menos confiam umas nas outras, o que inclusive explicaria o baixo desenvolvimento em contraste com as nossas riquezas materiais. Podemos ser muito sensíveis à pobreza e até podemos oferecer algum consolo momentâneo para os moradores de rua ou uma bolsa-família, por exemplo, mas não mudamos a situação desigual do país, não estamos dispostos, por assim dizer, a dar sangue para isso acontecer. O sangue que corre é o da violência cotidiana, e por isso mesmo não fazemos revoluções nem guerras, mas somos recordistas mundiais em assassinatos diários. Exatamente pelo mesmo motivo comportamental é que também no Brasil a quarentena não funcionou, ou durou pouco para valer, levando o país para o centro da pandemia mesmo tendo tido tempo para nos prepararmos. Tudo porque somos, na verdade, um dos povos em que a solidariedade provisória mais se manifesta. Esse conceito nos ajuda a compreender melhor o que somos, incluindo as nossas aparentes contradições de sermos tão íntimos quanto ausentes, tão abertos quanto conservadores, tão alegres quanto desalentados. Somos um povo afetuoso apenas superficialmente. Somos de nos emocionar tão facilmente quanto de esquecer numa memória curta. Não porque somos menos rancorosos, não guardamos mágoas, mas porque as nossas emoções não se transformam em instituições perenes compatíveis com elas. A nossa Constituição é altamente bondosa, mas nossa prática de sociedade altamente injusta e letal é bem o contrário do que diz a letra da lei.
Se as minhas análises estiverem corretas, países tão diferentes como a Nova Zelândia, Coréia do Sul, a Alemanha, Uruguai ou mesmo a Argentina, tiveram até aqui pelo menos grande êxito no combate à pandemia a partir de um distanciamento conjuntural entre as pessoas efetivo porque, em suas respectivas sociedades, o distanciamento estrutural ou a negligência com o próximo é menor e, consequentemente, os graus de solidariedade provisória são menores também porque maiores são os modos tradicionais de solidariedade. Há nesses países mais compromisso, um extinto de sobrevivência coletivo, mais preocupação com os demais, e um sentido de pertencimento comum que aumenta os laços entre seus cidadãos, que se afastam fisicamente, de uma maneira que pode parecer fria e calculista, mas sobretudo responsável pelo interesse comum. A reciprocidade nesses locais se dá porque seus moradores se reconhecem uns nos outros num tipo de interdependência social que diminui ou baliza os efeitos da solidariedade provisória tipificada nas sociedades contemporâneas, ainda que não os extinga. Esses países também apresentam inúmeros casos de solidariedade provisória, decorrentes de transformações que atingem a todos, porém, em níveis bem mais baixos que o Brasil, Peru, México e outras tantas nações, onde as sabotagens às quarentenas são sistêmicas e não ocasionais, isto é, são próprias de todo um sistema de consciência social que legitima comportamentos oportunistas anticoletividade.
O crescimento de uma solidariedade provisória não significa que a coesão social está ameaçada ou a própria sociedade por movimentos de fúria disruptivos. Ao contrário. Ela é o que sustenta a ordem do jeito que está, ainda que em níveis quase insuportáveis muitas vezes. Émile Durkheim foi um dos pais da sociologia a perceber com mais clareza que aquilo que mantinha as pessoas ligadas umas às outras e, portanto, mantinha toda a sociedade de pé era alguma noção de solidariedade social, dada pela consciência coletiva. Para ele haveria dois tipos principais. Na solidariedade mecânica, os indivíduos teriam laços diretos com a sociedade porque suas consciências particulares estariam subordinadas ou inseridas à consciência coletiva à qual pertencem. Seria o reino do “nós” e não do “eu”. Já na solidariedade orgânica, há maior espaço para a personalidade individual marcada pela divisão do trabalho no capitalismo. Nesse tipo novo de solidariedade, característicos do mundo moderno industrial, os indivíduos existem em função do que fazem na sociedade, e se unem nela simplesmente porque os indivíduos dependem uns dos outros para viver, cada um no seu determinado ofício. É o reino do “eu”, do que faço, e não o do “nós”, entre semelhantes. Ou seja, para Durkheim as pessoas se vinculam às outras pessoas em laços firmes, possibilitando toda a organização da vida social, de uma maneira coletiva ou individualizante, mas ambas a partir de estruturas fixas e duradouras, de um lugar, por assim dizer, de pertencimento.
Durkheim parece certo em afirmar que uma sociedade não sobreviveria sem nenhum tipo de solidariedade, afinal é preciso entender por que as pessoas permanecem juntas do ponto de vista sociológico e não apenas estritamente político, a partir da coerção estatal ou da sua ameaça. No entanto, os tipos que o autor elabora em sua teoria estão estreitamente ligados a uma modernidade que sofreu inúmeras e profundas mudanças nas últimas décadas. Aqui, mais importante do que classificar essas sociedades de pós-modernas ou pela ótica de uma nova modernidade como muitos já fizeram, é compreender que a solidariedade que hoje promove a ligação entre as pessoas tem caráter temporário ah hoc, o que a faz se afastar da visão estruturalista clássica. A solidariedade provisória, tal como a defino, superpõe o indivíduo sobre a coletividade sem fixá-lo na estrutura do capitalismo. A solidariedade provisória não se dá pela interdependência funcional, e sim pelo mesmo sentido da solidariedade mecânica de identidade, pertencimento e compaixão, só que de uma maneira bastante diferente, na qual a consciência coletiva é mobilizada de maneira variável pelo indivíduo sempre que algo o comove. Portanto, a solidariedade provisória reúne elementos mecânicos (antigos) e orgânicos (moderno), adicionando o componente crucial da temporalidade (pós-moderno). As pessoas conectadas se solidarizam apenas o suficiente para manter as regras da sociedade, para no momento seguinte voltar ao que estavam fazendo, num contínuo muito mais complexo de relações sociais.
Os desdobramentos globais das manifestações iniciadas nos EUA vão depender do grau de solidariedade provisória. Quanto mais temporárias forem essas identificações e mobilizações, menos consequências transformadoras existirão. Note que mesmo onde tudo começou, há limites para as mudanças. Semanas após a morte de Floyd, a suprema corte americana manteve por maioria a imunidade qualificada que protege os policiais que matam em serviço, mesmo em casos aberrantes. Evidentemente também, que a violência policial vai muito além do caso americano e até mesmo da questão racial, tendo em vista, por exemplo, o crescimento da violência policial em países africanos no mesmo período. No Quênia, os policiais negros mataram 15 pessoas igualmente negras durante toque de recolher em uma única noite, entre tantas outras noites opressivas semelhantes. Os atentados contra os direitos humanos cresceram nas quarentenas, não só por racismo, mas pela maldade de policiais em torturarem e assassinarem mais gente pobre enquanto menos pessoas têm nas ruas para assistir, numa soma de sociopatia dos agressores e diretriz definida por quem tem o poder e os comanda. Casos semelhantes proliferam no Brasil e chegam até a mobilizar temporariamente a opinião pública. Em várias localidades brasileiras ainda se vê alguns protestos e até mesmo movimentos de fúria com carros e ônibus queimados, que podem vir a crescer. Tais manifestações, contudo, são ainda breves e pequenas comparadas ao próprio tamanho do problema no país.
As tensões sociais pós-pandamia vêm de dois lados: pelo distanciamento social entre pobres e ricos, em termos de acesso a bens e valores, e pelo distanciamento social estrutural produzido pela instalação da solidariedade provisória, cujo conceito pude desenvolver anteriormente. Em graus diferenciados, as sociedades passam por uma transição nada fácil que, assim como no século 19, combina elementos de solidariedade social e condições sócio-econômicas mais duras. Há duzentos anos, após as revoluções industriais, as sociedades solidárias mecanicamente migraram para um modelo de sociedades mais orgânicas, com classes sociais redefinidas, num ambiente de explosão da desigualdade e recrudescimento das condições objetivas de vida, que só puderam ser atenuadas no século seguinte com os estados de bem estar social e um maior desenvolvimento humano, que acabou incorporando grande parte dos desalentados pelo processo de modernização no século anterior. Foi um período marcado por revoluções e grandes revoltas, como, por exemplo, a primavera dos povos de 1848. Atualmente, vivemos outra mudança de magnitude semelhante. Agora no sentido de uma solidariedade provisória num mundo que novamente assisti ao recrudescimento das condições sociais sem poder contar agora com as políticas de desenvolvimento em função do fim dos estados de bem estar. O máximo que podem esperar são programas de renda mínima. Exatamente por causa do tipo de solidariedade emergente “as primaveras dos povos” atuais são bem menos impactantes. Elas existem, e as revoltas iniciados nos EUA no fim de maio são provas disso. Porém, são passageiras. Os episódios de revolta nos séculos 19 e 21 são distintos em termos de volume e efeitos. E, evidentemente, de novo são eventos cercados de disrupções nos padrões tecnológicos, agora representadas, sobretudo, pela inteligência artificial unida à comunicação em rede mundo afora e casas adentro.
Embora os indivíduos intensificassem os seus contatos, o distanciamento social foi aumentando ao longo dos séculos. Passou de um tipo de solidariedade social para outra, mecânica, orgânica e agora provisória, até atingir uma situação limite de distanciamento entre as pessoas. Limite no sentido de que beira à incoesão ou fragmentação social, por onde exatamente proliferam as revoltas e confrontos de toda espécie em todo lugar. As pessoas estão cada vez mais afastadas umas das outras, mas não estão reclusas em suas casas. Ao contrário. Mantêm uma atividade intensa pela Internet e se falam cotidianamente. Elas formam multidões virtuais em filas digitais sem fronteiras. Conseguem cumprir a aparente contradição de estarem reservadamente muito expostas. Nunca houve tão pouca privacidade quanto agora. E ao mesmo tempo, as pessoas estão isoladas. Não revelam seus sentimentos profundos que alimentam o mal estar, sua verdadeira face, mas, sim, “avatares” típicos ou misturados com elementos da realidade. Por tudo que foi dito neste artigo, concluo que a maior luta de século XX deve ser a luta pelo afeto, independentemente de raça, credo, nacionalidade ou qualquer outra identificação social. Quando policiais e manifestantes se abraçam, uma luz de esperança se acende.
Bibliografia
BAUMAN, Zygmunt (2007). Tempos líquidos. São Paulo: Zahar.
BIZZARRO, Fernando e MAINWARING, Scott (2019). “The Fates Of Third-Wave Democracies”, Journal of Democracy, Janeiro.
BOLTRON, Nick (2019). Superinteligência: quando a criatura quer ser o criador. São Paulo: Darksidebooks.
BUARQUE DE OLANDA, Sérgio (1997). O Homem Cordial. São Paulo: Companhia das Letras.
COUTINHO, Marcelo (2020). “Pandemia e desglobalização”. Revista Brasileira de Cultura e Política de Direitos Humanos, UFRJ. https://revistas.ufrj.br/index.php/metaxy/announcement/view/462
COUTINHO, Marcelo (2016a). “O açougueiro de Glasgow”. Jornal Correio Braziliense. Junho.
COUTINHO, Marcelo (2016b). “Solidão”. Jornal Correio Braziliense, julho.
DREZNER, Danil (2016). “The year of democratic decay”. Washington Post. Julho.
DURKHEIM, Émile (2007). Da divisão do trabalho social. São Paulo: Martins Fontes.
FALLON, Kathleen et ali (2018) “Decoupling International Agreements from Domestic Policy: The State and Soft Repression”. Human Rights Quarterly. Volume 40, N. 4.
FREUD, Sigmund (2011). O mal estar da civilização. São Paulo: Companhia das Letras.
FRIEDMAN, Thomas L. (2016). “Another Age of Discovery”. New York Times, 22 de junho.
GOLSIN, Ian e KUTARNA, Chris (2016). Age of Discovery: Navigating the Risks and Rewards of Our New Renaissance. New York: St. Martin.
GUROVITZ, Helio (2020). “O mundo sem conseguir respirar”. https://g1.globo.com/mundo/blog/helio-gurovitz/post/2020/06/03/o-mundo-sem-conseguir-respirar.ghtml
HARARI, Noah Y. (2019). Homo Deus: uma breve história do amanhã. São Paulo: Companhia das Letras.
HOBSBAWN, Eric (2001). A era dos extremos: o breve século XX. São Paulo: Companhia das Letras.
HOWE, Paul (2017). “Eroding Norms and Democratic Deconsolidation”. Journal of Democracy, outubro, v. 28, n4, pp 15-29.
JUAN, Lins (2000). Totalitarian and Authoritarian Regimes. Londres: Lynne Rienner.
NODIA, Ghia (2017). “The End of the Postnational Illusion”. Journal of Democracy, v.28, n 2, pp. 5-19.
PINKER, Steven (2018). O Iluminismo Agora: Em Defesa da Razão, Ciência, Humanismo e Progresso. São Paulo, Editora Presença.
PLATTNER, Marc F. (2019). “Illiberal Democracy and the Struggle on the Right”. Journal of Democracy, janeiro.
RISSE, Mathias (2019). “Human Rights and Artificial Intelligence: An Urgently Needed Agenda”. Human Rights Quarterly.
SIKKINK, Kathryn (2019). Evidence for Hope – Making Human Rights Work in the 21st Century. Princeton: Princeton University Press. (capítulo 2)
SMITH, Adam (1997). A teoria dos sentimentos morais. São Paulo: Martins Fontes.
STEFAN, Roberto e MOUNK, FoaYascha (2016). “The Danger of Deconsolidation: The Democratic Disconnect”. Journal of Democracy, julho, 27-3.