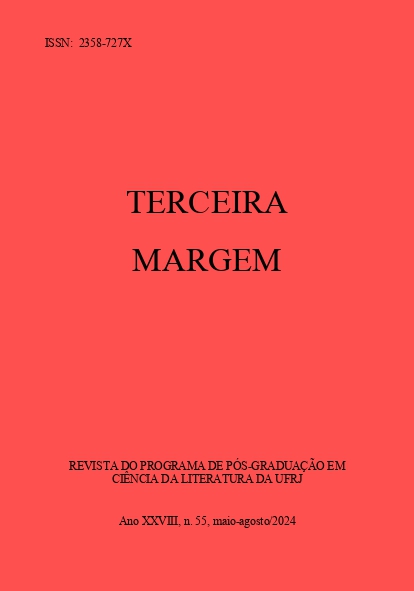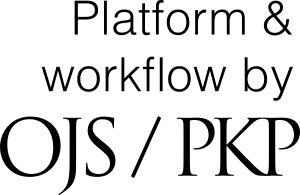Subjetividade e demônios nos Padres do Deserto (III e IV d.C.)
DOI:
https://doi.org/10.55702/3m.v28i55.62187Palavras-chave:
demônios, monges, subjetividade, padres do desertoResumo
O presente artigo apresenta os limites ambíguos entre a figura do monge dos inícios do monasticismo (séculos III e IV d.C.) e seus inimigos, os demônios. Se, por um lado, os demônios são entendidos como seres autônomos, dotados de independência existencial, eles também são, por vezes, descritos como pensamentos e imagens na mente dos monges. Entes do mundo que atacam os monges por dentro, é também em um combate contra eles que o monge se constitui enquanto sujeito. O conhecimento das artimanhas e disfarces do demônio é essencial para o monge se constituir enquanto tal. Sendo os demônios mestres do disfarce, a virtude fundamental do monge é o discernimento, habilidade que o possibilita descobrir a estratégia utilizada pelo demônio para o atacar. A ideia geral do artigo é defender que, mesmo sendo seu inimigo (e até por isso mesmo), os demônios são essenciais para a constituição do sujeito nos textos do monasticismo primitivo.
Downloads
Referências
ALTHAUS-REID, M. Indecent theology. London: Routledge, 2000.
ANÔNIMO. Les apophtegmes des pères. Tomo 1. Paris: Les Editions du Cerf, 1993.
ATANASIO DE ALEXANDRIA. Vie d’Antonie. Paris: Les Éditions du Cerf, 1994.
AURELIO, M. Meditations. Cambridge: Harvard University Press, 1930.
BRAKKE, D. Demons and the making of the monk. Spiritual combat in the early christianity. Cambridge: Harvard University Press, 2006.
BURRUS, V. Ancient christian ecopoetics. Cosmologies, saints and things. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2018.
CARBULLANCA, C. Demonologia en la apocaliptica y Qumran. Teologia y vida, 57/2, Santiago, p. 211-233, 2016.
COHEN, J. J. Monster theory: Reading Culture. Minneapolis: University of Minessota Press, 1996.
DERRIDA, M. O animal que logo sou. São Paulo: Unesp, 2002.
EPICTETO. Encheirídion. Prometheus - Journal of Philosophy, 5(2), 2012. Disponível em: https://doi.org/10.52052/issn.2176-5960.pro.v5i2.816. Acesso em: 13 mai. 2024.
EVAGRIUS. Traité pratique ou le moine. Sources chrétiennes, n. 170. Paris: CERF, 1971.
EVAGRIUS. The greek ascetic corpus. Tradução e organização: SINKEWICZ, R. E. Oxford: Oxford University Press, 2003.
EVAGRIUS. Evagrius Ponticus. Tradução e organização: CASSIDAY, A. M. New York: Routledge, 2006.
EVAGRIUS. Talking back. A monastic handbook for combating demons. Kentuky: Cistercian Publications, 2009.
EVAGRIUS. Sobre as oposições de virtudes e vícios ou Segundo discurso a Eulogio, de Evágrio Pôntico. Tradução: Marcus Reis Pinheiro. Clássica - Revista Brasileira de Estudos Clássicos, 35(1), p. 1-20, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.24277/classica.v35i1.972. Acesso em: 13 mai. 2024.
GILMORE, D. D. Monsters. Evil beings, mythical beasts and all manner of imaginary terrors. Philadelphia: Upenn Press, 2003.
GUILLAUMONT, A. Un philosophe au desert. Évagre Pontique. Paris: Vrin, 2004.
HAMORI, E. J. God’s monsters. Vengeful spirits, deadly angels, hybrid creatures and divine hitmen of the bible. Minneapolis: Broad Leaf Book, 2003.
HARAWAY, D. Manifesto ciborgue. Ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final do século XX. In: TADEU, T. Antropologia do ciborgue. As vertigens do pós-humano. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.
HARAWAY, D. O manifesto das espécies companheiras. Cachorros, pessoas e alteridades significativas. Rio de Janeiro: Bazar do tempo, 2021.
LATOUR, B. Jamais fomos modernos. Ensaio de antropologia simétrica. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994.
MARAVAL, P. D’Antoine à Martin: aux origines du monachisme occidental. Vita Latina, n. 172, Avigon, p. 72-82, 2005.
MILLER, P. C. Is there a harlot in this text? Journal of Medieval and Early Modern Studies, 33:3, Durham, 2003.
MORTON, T. Queer Ecology. Proceedings of the Modern Language Association, 125, n. 2, Cambridge, p. 273-282, 2010.
RICH, A. D. Discerniment in the desert fathers. Milton Keynes: Paternoster, 2007.
STENGERS, I. Reativar o animismo. Belo Horizonte: Chão da Feira, 2017.
STRINGER, M. D. Rethinking animism: thoughts from the infancy of our discipline. Journal of the Royal Anthropological Institute, 5 (4), London, p. 541-556, 1999.
TYLOR, E. B. Primitive culture. 2º v. Cambridge: Cambridge University Press, 2010 [1871].
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2024 Marcus Reis Pinheiro

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:
- a. Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons Attribution que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista.
- b. Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
- c. Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado (Veja O Efeito do Acesso Livre).